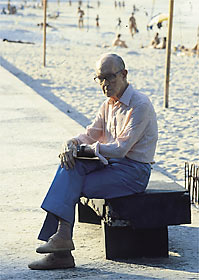Zeh Gustavo é a multiplicidade em sua essência. Diversos homens em um só. Poeta, músico, revisor, jornalista cultural, sindicalista, boêmio, entre outras coisas, não necessariamente nessa mesma ordem. Nasceu depois que Gustavo Dumas, autor do Mito da origem do futebol (Ed. Cone Sul, 1997) e O povo e o populacro (Ed. Cone Sul, 1998), escreveu Solturas, balões e bolinhas de papel (Damará, 2001) e lançou seu primeiro livro, Idade do Zero (Escrituras Editora, 2005). “O Dumas é (um pouco) mais formal, assina artigos bravos, faz política sindical, corre na frente. O Zeh é um vagabundo que canta samba-de-breque, fanfarreia, traga um sem-número de copos de boa pinga por noite, usa chapéu de malandro – como se um deles fosse”, explica. Mas, a (aparente) dualidade entre Zeh Gustavo x Gustavo Dumas é um alimento de si mesma. “Sem o Gustavo não existiria o Zeh, pois preciso dos elementos do mundo de um para dar vida ao outro”.
Origens
A trajetória literária de Gustavo Dumas teve início com a leitura de notícias de esporte e política nas páginas dos jornais, de onde se inspirou para escrever redações no colégio. À sombra das chuteiras imortais, de Nelson Rodrigues, foi o primeiro livro espontaneamente lido, presente dado pelo tio. Foi também do genial escritor, jornalista e dramaturgo o primeiro livro comprado por Dumas: O casamento, lembra. De Nelson, Dumas vê ainda outras similaridades. “Minha família era muito pobre e a questão principal era sobreviver. Mas sobreviver com certa pompa farsesca. A família de Nelson passava fome mas não se mudava de Copacabana”. Além disso, ambos tinham em comum o (mau)* gosto futebolístico de torcer pelo tricolor das Laranjeiras, como faz questão de frisar o autor.
Emociona-se ao lembrar da infância. “A sensibilidade e o sentimento de luta foram marcantes. Isto entrou na minha visão de mundo e influencia diretamente, não só na minha poesia, como em qualquer atividade que exerço hoje. Quero, no mínimo, sacanear o mundo”. E volta a lembrar do tio. “Foi a figura paterna mais presente em minha vida, o principal personagem boêmio-intelectual da minha família”. Do pai, diz apenas que está vivo, “por aí”, mas não volta a tocar no assunto. Dele fala em Família tipo assim, poema de Idade do Zero:
Meu pai sagrou-se um grave Estabelecedor de Réguas.
Tinha desajeitamentos pois que algumas réguas entortavam contrasigo mesmo.
Viveu bastante, como dizem.
Com o tempo foi tornado cabeça dura para modo de agüentar as próprias réguas que ele criara.
Hoje, admite-se desiludido e mais maduro. “Não tenho mais a raiva que tinha antes. Agora vejo o humor como a melhor maneira de agredir. Sinto-me cansado mas não perco a ternura jamais!”.
Poesia Práxis
Zeh Gustavo é um dos novos e bons valores da poesia práxis, surgida no Brasil em 1962, com a publicação de Lavra lavra, de Mário Chamie. Nas palavras da crítica Nelly Novaes Coelho, Chamie “faz da poesia um ato imperativo que incita ao 'fazer'. Assume o 'tempo presente' e o 'homem' que nele vive. Finca os pés no 'espaço concreto' onde a vida se cumpre”. Superficialmente falando, a poesia práxis chega para se opor ao concretismo, movimento de destaque na década de 50, valorizando o conteúdo em detrimento da forma. Outro expoente da poesia práxis é Cassiano Ricardo. E é justamente Mário Chamie quem assina o prefácio de Idade do Zero:
Considerando-se “alguém”, o poeta veio a entender que “o nosso tempo é um estágio zero”, feito de “desacontecimentos acelerados”, em todas as suas instâncias de realidade (a rua, a casa, a família, o poder, o estado, o trabalho). Movido por esse entendimento, faz, então, sua opção negativa, ou seja: nega o sistema de afirmação de si mesmo: “Optei: não ser”. Leia-se: optou não ser refém da maquiagem do tempo, escolheu não anular-se na aporia que reside na “palavra sem liguagem”, e resolveu não submeter-se às “formas desvalidas” que promovem o fetiche cego do chamado “dinamismo produtivo” de nossos dias.
Os primeiros quatro livros escritos pelas mãos de Gustavo Dumas seguem “uma percepção de circularidade do mundo”, como ele mesmo define. Para o próximo – que tem como título provisório A perspectiva do quase - Zeh anuncia uma mudança: “Numa sociedade objetiva, em que o que conta é o produto acabado, o quase é uma forma de perturbar essa hegemonia”, diverte-se. “Não estou negando o produto acabado. Mas acho que o quase é o que há de mais belo: o ator um minuto antes de entrar no palco, o breve momento antes do ‘pegar na mão’, o olhar instantes antes do primeiro beijo, aí é onde reside a beleza da vida”, regozija-se.
Idade do zero
Em 2005, Zeh Gustavo veio à luz em Idade do Zero, colocando para fora a poesia marginal, a troça, o humor e – mais uma vez – o irresistível desejo de sacanear o mundo: “Mudar o mundo é ingenuidade. O humor é a melhor maneira de agredir”. Idade do Zero fala sobre a relação esquizofrênica entre o homem urbano e o mundo moderno. Subversor e contestador, o poeta chega para dar vida à subjetividade perdida nas convenções da contemporaneidade. Neste contexto, se define como um “dessujeito”, como transparece no poema Prostituto da palavra:
Costumo me ater a funções durante o dia
As funções me isolam um pouco de minha disfunção
Elas me deitam impotente
Naquele corre-corre obsessivo
Minha farsa é de plástico
Transita depois anormalmente para o nada
Para ele, o duelo homem x urbanidade não é de hoje “No início do século XX, Machado, Baudelaire e Chaplin já falavam sobre isso. Havia campanhas populares para que não se jogasse merda na rua”, cita. Hoje em dia, cada vez mais, a redenção vem através do consumo. “O capitalismo elimina a subjetividade e, ao mesmo tempo, oferece soluções mágicas, incrivelmente rápidas para o próprio efeito que causa”.
Olhando em volta, Zeh encontra sinais desta decadência. “Temas que deveriam ser o ponto de partida para debates e ações de todos os segmentos da sociedade são transversais, como a ecologia e a cultura, por exemplo”. Saída? “Nossa responsabilidade é resgatar, através da arte, da imprensa, da política, esses temas para que eles venham para o centro das discussões”, aponta.
Outra discussão que o poeta traz à tona é a busca pelo conhecimento em uma sociedade cada vez mais hedonista. “As universidades trabalham como vetores de treinamento e domesticação para o mercado. O resultado disso é a formação de uma elite sem formação intelectual”. E, desta vez, atira para cima da imprensa. “A mídia é um instrumento deste sistema. A tendência do jornalismo é nivelar por baixo. Vejam o crescimento cada vez maior dos jornais ditos populares, que atendem a pessoas emburrecidas. Neles, a opinião é a falta de opinião. E os grandes jornais seguem o mesmo caminho”, dispara.
Mercado literário
Zeh diz que não ambiciona viver de poesia. “Apenas deixar de ter prejuízo com ela”. E tenta explicar por quê. “Dentro do produto livro, a literatura é marginalizada; e dentro do produto literatura a poesia assim também o é”. Causas? “A poesia vem operar os inconscientes do mundo da linguagem e, para uma sociedade que não entende nem mesmo o consciente, como entender o inconsciente?”.
Mas dentro desta mesma sociedade, como deve operar a poesia? “Na contemporaneidade, a poesia esqueceu o eu e, com isso, tenta mascarar a sua subjetividade”. Zeh admite o papel social da poesia, mas sem que isto seja a razão de sua existência. “A poesia precisa se comunicar enquanto ente social, mas não ter isto como sua causa. Eu não acredito no produto artístico que tente, propositadamente, agradar a outrem. Isto não é objeto artístico, não é honesto”.
Ofício de escrever
Mas então o que leva alguém a ser artista? Por que se aventurar em um ofício o qual “a sociedade capitalista não reconhece como trabalho”, como ele mesmo admite? “Em alguns concursos literários, há a explicação de que a ‘preocupação é cultural’, o que significa que não há premiação em dinheiro. Isto me incomoda muito. A cultura é um trabalho e, como tal, deve ser, sim, remunerado pela sociedade capitalista em que vivemos”. O reconhecimento que o artista busca talvez venha de outra natureza. “Todos querem o aval do público, o que não quer dizer escrever para agradar”. Para ele, “a obra literária busca o diálogo e o pior escritor é aquele que fecha a sua obra”.
Zeh Gustavo admite que para se obter este reconhecimento, é preciso fazer concessões. Talvez a primeira seja a auto-censura. “Também tenho a capacidade de pensar politicamente”. Como escritor contratado de uma editora, também precisa treinar a sua tolerância. “Não dou o braço a torcer em determinadas coisas como, por exemplo, trocar uma palavra por outra sugerida, por que isto é uma questão de autoria”. Mas ele reconhece que a troca de opiniões também pode ser importante. “Também não dou uma banana, pois o olhar do editor é também o olhar do leitor”.
Música
Por falar em reconhecimento, a música, talvez “pela resposta rápida que se tem do público”, seja o ofício que mais agrade a Zeh Gustavo. É notável o prazer do poeta em falar da atividade, da qual se considera “um intuitivo”. “Faço música de maneira amadora no melhor e no pior sentido. Nada substitui o canto no chuveiro, o batuque numa mesa de bar”. Para ele, o que acontece hoje é o que chama de fenômeno da inversão. “Antes, numa roda de samba, os compositores mostravam suas músicas, cantavam, brincavam, versavam. E aí uma ou outra música ‘pegava’, caía no gosto. Depois, podia ou não ir para o rádio e tocar, fazer sucesso. Hoje a música precisa ser gravada por algum famoso, precisa passar pelo constrangimento do jabá, ‘pegar’ no gosto do público para depois entrar no repertório dos músicos de uma roda de samba”. Assume-se assim como um nostálgico e faz apologia do amadorismo “sem cerimônias”. “Precisamos de um mínimo de sentimento de amadores para fazermos arte, senão tudo perde o seu sentido original. No amadorismo a arte é mais levada a sério”.
Como poeta, o sambista de breque também critica a falta de compromisso com as letras. “Percebo que, na ânsia por querer agradar e vender o seu produto, o músico deixa de experimentar em busca de fórmulas prontas já aceitas por um mercado, no melhor estilo ‘se está bom, deixa como está’”.
Com formação acadêmica em letras e pós-graduado em jornalismo cultural, Gustavo Dumas deu vida ao moleque Zeh, que busca apenas a essência. Com isso, o sambista de breque esbarra em obstáculos vindos de sua falta de academicismo no terreno musical. “Eu mostro minha música e os músicos me perguntam coisas para eles simples: ‘que nota é essa aqui? qual o tom?’. E eu não sou músico, definitivamente, e nunca paro muito pra pensar nisso não, pra mim é secundário, mas não é”. Com intuição, encontra soluções estéticas para os problemas. “Sou artesão, trato os sons sem me preocupar com o nome que eles levam, trato-os qual palavras, com uma diferença fundamental de que o alfabeto e a gramática dos sons eu não domino”. Mas nem por isso se acanha. “Entendo quando os músicos me fazem cara feia. Porém não vou deixar de fazer música por causa deles! Nossos maiores compositores populares não tinham uma boa formação escolar. Eu não tive uma boa formação musical e componho”, afirma desavergonhadamente. E aponta qual caminho está seguindo. “Tenho uma visão primitiva da música. Penso que o artista começa a experimentar para, ao final, chegar ao simples”.
Processo criativo
O poeta recorre a um conceito de arte para explicar sua forma de criar. “A arte é o transporte de um lugar para o outro. Por isso escrevo no ônibus, na barca, indo e vindo de Niterói”. Para transpor para o papel tudo o que seus instintos apreendem, Zeh Gustavo observa. “A observação é uma contemplação atuante. É preciso tornar o mundo uma obra artística, ler o que está escrito na sua frente, mesmo sem que isto esteja explícito. Eu gosto quando as minhas loucuras emergem de alguma coisa que está na minha frente. Procuro enxergar as potencialidades de cada imagem, mesmo que a arte esteja escondida lá no fundo do quadro. A arte repete os vícios loucos da natureza”.
Futuro da arte
Sobre o futuro, ele crê em Andy Wahrol, para quem todos terão 15 segundos de fama. “Vai haver dificuldade de surgir verdadeiros artistas, populares no sentido de hoje, com enormes fã-clubes, como Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso, por exemplo. A tendência é a da fragmentação”. Zeh credita este fator ao mundo com informações cada vez mais rápidas e perecíveis. “A internet não confere o aval de ‘bom’ que todo artista ambiciona. Sua origem é anárquica. O que é seu grande trunfo é também seu grande problema, pois o conteúdo assimilado pelo público é muito pequeno”. E explica os motivos que o levam a continuar escrevendo. “Tenho uma doce pretensão: a de escrever o que eu tenho que escrever. Isso vai fazer com que um dia eu pare de escrever ou escreva o mesmo de outras formas”.
* observação de caráter meramente pessoal do editor deste blog